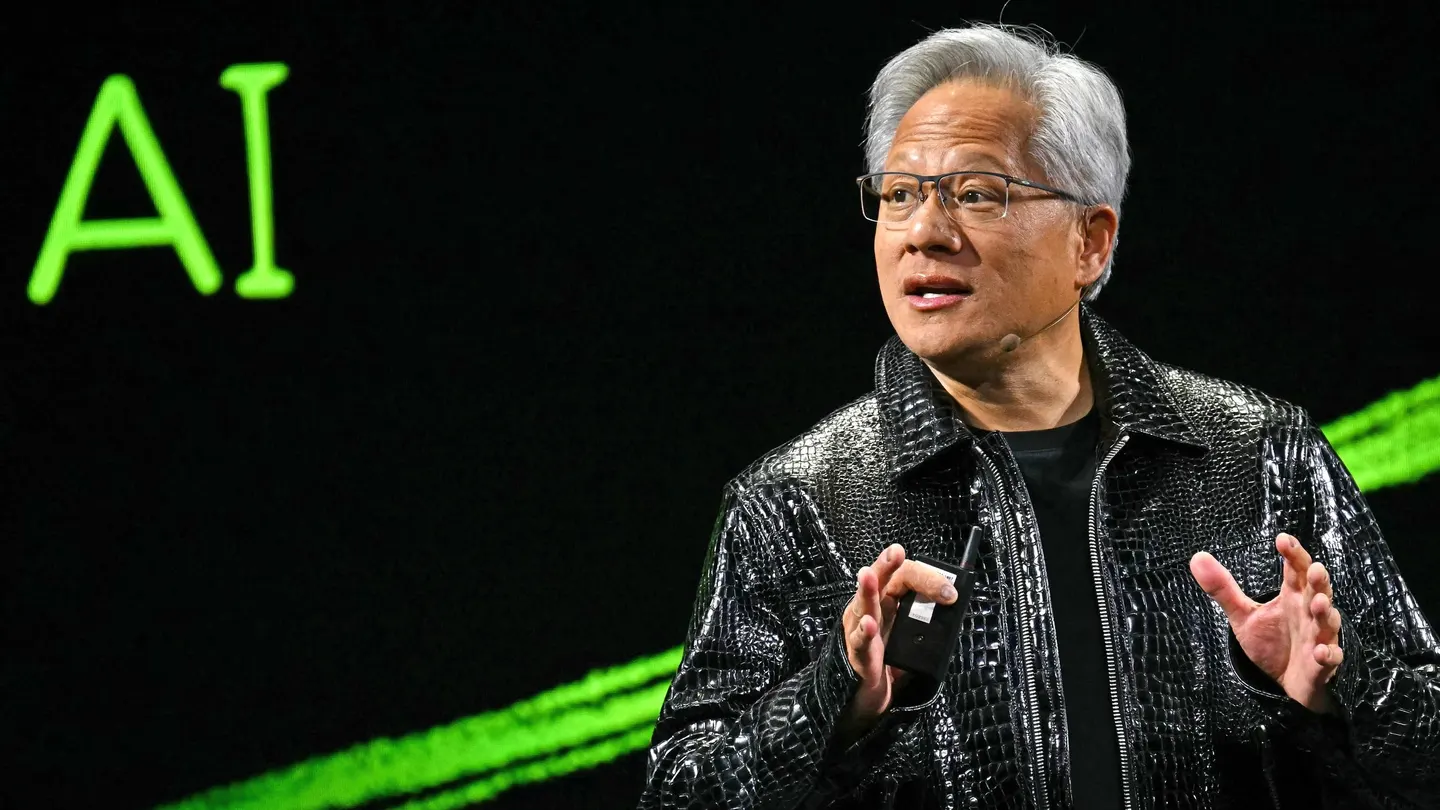Nina Silva foi considerada a Mulher Mais Disruptiva do Mundo na 4.ª edição dos Women in Tech Global Awards. Mas para a brasileira, quem é realmente disruptiva é a sua avó e a sua mãe, que “apenas com a 4.ª classe conseguiu enviar as duas filhas para a faculdade”, diz à Forbes, de passagem pela capital portuguesa.
Não é uma questão de modéstia, mas de perspetiva. “A minha família descende de pessoas escravizadas”, conta a CEO e co-fundadora do Movimento Black Money, um hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade negra na era digital, e da fintech D’Black Bank, que oferece serviços financeiros a consumidores e empreendedores negros no Brasil.
Sem ter qualquer educação formal, a avó de Nina enviou os filhos, ainda menores de idade, para trabalhar na cidade de Rio de Janeiro, a seis horas de autocarro da zona onde nasceu: Campos dos Goytacazes. “Era uma região de fazendas de cana de açúcar no interior do Estado do Rio de Janeiro, onde houve grandes movimentações de compra e venda de africanos para a escravatura. Ainda hoje a região tem uma população negra muito extensa e pessoas com o mesmo sobrenome.”
O apelido da maioria das famílias da região é Francisco, conta, “porque era esse o apelido do senhor da fazenda que escravizava e tirava os nomes originais aos africanos. Era uma forma de marcar a posse. A minha mãe era Francisco e só quando casou é que passou a ser Francisco Silva, outro nome português. Eu chamo-me Marina Barbosa da Silva. Não é uma herança positiva, é de escravização”, remata, cáustica, enquanto bebe o seu café.
Esta perspetiva, este conhecimento da sua história e da do comércio de escravos e da sua utilização – no Brasil, a escravidão só foi abolida em 1888 – estão na base do seu trabalho atual, um empreendedorismo social na interseção do feminismo e do ativismo contra a descriminação racial.
Nina Silva já foi considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, e uma das 100 pessoas de ascendência africana com menos de 40 anos mais influentes no mundo.
Talvez não fosse o discurso que se esperaria de uma executiva com 20 anos de experiência no segmento de Produtos e Serviços de TI em empresas multinacionais, mas – depressa o percebemos – Nina Silva não é uma pessoa comum. Não é por acaso que recebeu um prémio que distingue mulheres com impacto na luta pela diminuição da desigualdade de género na indústria de tecnologia. Também já foi considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, e uma das 100 pessoas de ascendência africana com menos de 40 anos mais influentes no mundo.
As distinções acumulam-se e a razão é o Movimento Black Money, a plataforma de estímulo do “afroempreendedorismo” que criou em 2017 com Alan Soares, então o seu sócio e hoje também marido. A ideia surgiu acoplada ao conceito de “black money”, ou seja, de apontar o poder de compra dos afrodescendentes para dentro da própria comunidade.
“A nossa força de compra é muito grande”, refere Nina Silva.
“Estamos em maioria”, diz. “Somos 119 milhões de negros no Brasil. Isto é, somos 54% da população. A nossa força de compra é muito grande. Movimentamos 1,9 bilhões de reais. Se fossemos um país, seríamos o 11.º do G20 e o segundo do mundo com a maior população negra logo a seguir à Nigéria. Mas onde está essa força económica para que os outros índices atinjam o mesmo nível de importância?”, questiona.
E responde, de seguida, considerando haver um problema social gerado a partir da desigualdade social, e não o oposto. “Há um porquê de a maioria pobre no Brasil ser negra. Existe um porquê de a maioria desempregada ser negra. E a causa é o nosso próprio processo histórico. A abolição da escravatura, em 1888, não trouxe nenhum projeto de lei para inserção da comunidade de ex-escravizados e seus descendentes. Foram deixados à deriva. Não tivemos direito a reparação histórica.”
No passado, os quilombos eram locais de refúgio de escravos negros no continente americano. Eram focos de resistência. Ora, para Nina Silva, este é o tempo de criar novos quilombos, que serão os grupos que lutam por essa igualdade que ainda não chegou. “E o Brasil é o melhor país para isso”, argumenta, “para que não haja tanta evasão escolar entre pessoas negras, para que tenhamos saneamento básico.”
Diagnosticado o problema, chegou o tempo de propor soluções. Como pedir a esses 119 milhões de brasileiros que mantenham o dinheiro e as oportunidades de negócios dentro da economia negra. Por outras palavras, se forem comprar um pão de manhã, “que vão à padaria de uma pessoa negra, mesmo que fique mais longe”. De início, quando Nina e Alan falavam de Black Money, ninguém sabia o que era. “Ficámos quatro anos explicando exaustivamente, até que hoje todo o mundo já usa o termo de maneira fluida. É uma felicidade para nós”.
Primeiro pilar do Movimento Black Money
O primeiro pilar do Movimento Black Money é precisamente o de educar, esclarecer e comunicar conteúdos de marketing, vendas, finanças e tecnologia para a comunidade negra no Brasil. “Eu queria muito trabalhar com educação para levar mais pessoas para a área de tecnologia e trazer instrumentos tecnológicos, ferramentas digitais para negócios negros”, diz. Já Alan era alguém de que um amigo comum lhe falara. Era alguém que Nina deveria conhecer pois tinham interesses em comum. “Ele era trader de investimentos e estava cansado de dar a ganhar dinheiro a quem já o tinha.” Juntaram experiências, conhecimentos e olhares comuns e criaram o Movimento Black Money, que também tem uma valência financeira e tecnológica.
Conseguir integrar uma parte da população que até aqui estava excluída do sistema bancário é um dos grandes triunfos de Nina Silva. “No Brasil há muitas regras para aceder ao crédito”, diz. “O que o Movimento Black Money consegue é dar informação valiosa aos bancos para que possam fazer uma análise bancária a quem de outra forma não tem histórico bancário para ser analisado”.
São pessoas “desbancarizadas”, como explica, mas que têm um negócio. E tendo esse negócio um terminal de pagamentos, Nina consegue não só provar a existência de atividade económica, como também avaliar o comportamento comercial e, com isso, flexibilizar o acesso a crédito. “Damos à banca informação que antes não tinham, como a volumetria de transações de pessoas pretas em diferentes mercados, e isso vai auxiliar não apenas a vida pessoal dos empreendedores, mas também o seu próprio negócio.” Assim, como consequência desta urgência em integrar a comunidade negra brasileira no sistema bancário, nascia, em 2019, o projeto D’Black Bank, que pode ser lido como o braço financeiro do projeto Black Money.
Auxílio de emergência para famílias negras
O D’Black Bank tem ainda um auxílio de emergência para famílias negras. É um apoio que sai desse cartão para famílias vulneráveis que a pandemia deixou numa posição ainda mais fragilizada. Famílias que não estavam a receber auxílio do governo. “Captámos doações com a nossa rede e com isso conseguimos apoiar mais de 500 famílias com mais de 1800 reais durante o primeiro ano da pandemia. Abrimos agora uma nova rodada de captação de doações e vamos auxiliar mais 200 famílias”.
Em 2020 chegou o Mercado Black Money — uma rede com mais de mil lojas associadas, incluindo lojas online. “E começou apenas com 30, no início da pandemia”, diz sobre este marketplace que liga “negócios negros a consumidores antirracistas”. Quem acede à plataforma passa primeiro por um processo de onboarding, no qual tem acesso a todos os cursos e materiais pedagógicos, antes de receber o cartão Credicard. A intenção, claro, é que depois usem o cartão para comprar produtos e serviços dentro do mesmo marketplace, com vantagens para todos.
A África Lusófona já entrou no radar do Movimento Black Money, mas a ideia, explica Nina, seria a de ir para lá — começando por Angola —não para ensinar, mas para formar professores, para que o projeto tenha continuidade com empreendedores locais. “Queremos que o movimento seja feito por angolanos”, diz.
A meio da sua carreira nas tecnologias de informação, Nina teve um burnout. Foi em 2013, quando tinha 31 anos. A rotina e a elevada carga de trabalho terão a sua quota parte de responsabilidade, mas hoje, olhando para trás, consegue apontar algumas causas paralelas: “À medida que subia na carreira, percebia que a diferença salarial em relação aos meus pares, geralmente homens brancos, era cada vez maior, e que a remuneração deles era superior à minha”, recorda. “Também acontecia deixarem-me de fora de reuniões importantes, ou riscarem o meu nome de viagens de trabalho importantes. Dizerem que as minhas roupas não eram de executiva, ou que o meu cabelo não estava alinhado”, desabafa.
Para curar o burnout, Nina viajou até aos Estados Unidos para fazer um curso de verão de literatura da prestigiada NYU e acabou mesmo por publicar um livro de poesia erótica. “A minha escrita fala de corpos pretos e erotismo”. Nina conta como sempre teve queda para a literatura, mas que o interesse aqui não é apenas artístico, antes mais uma forma de ativismo e de reclamar o seu espaço. “Para que não fossem sempre escritores brancos a objetificar o corpo da mulher negra, achei que se alguém deveria escrever sobre o meu corpo, esse alguém seria eu”.
Jornalista: Markus de Almeida